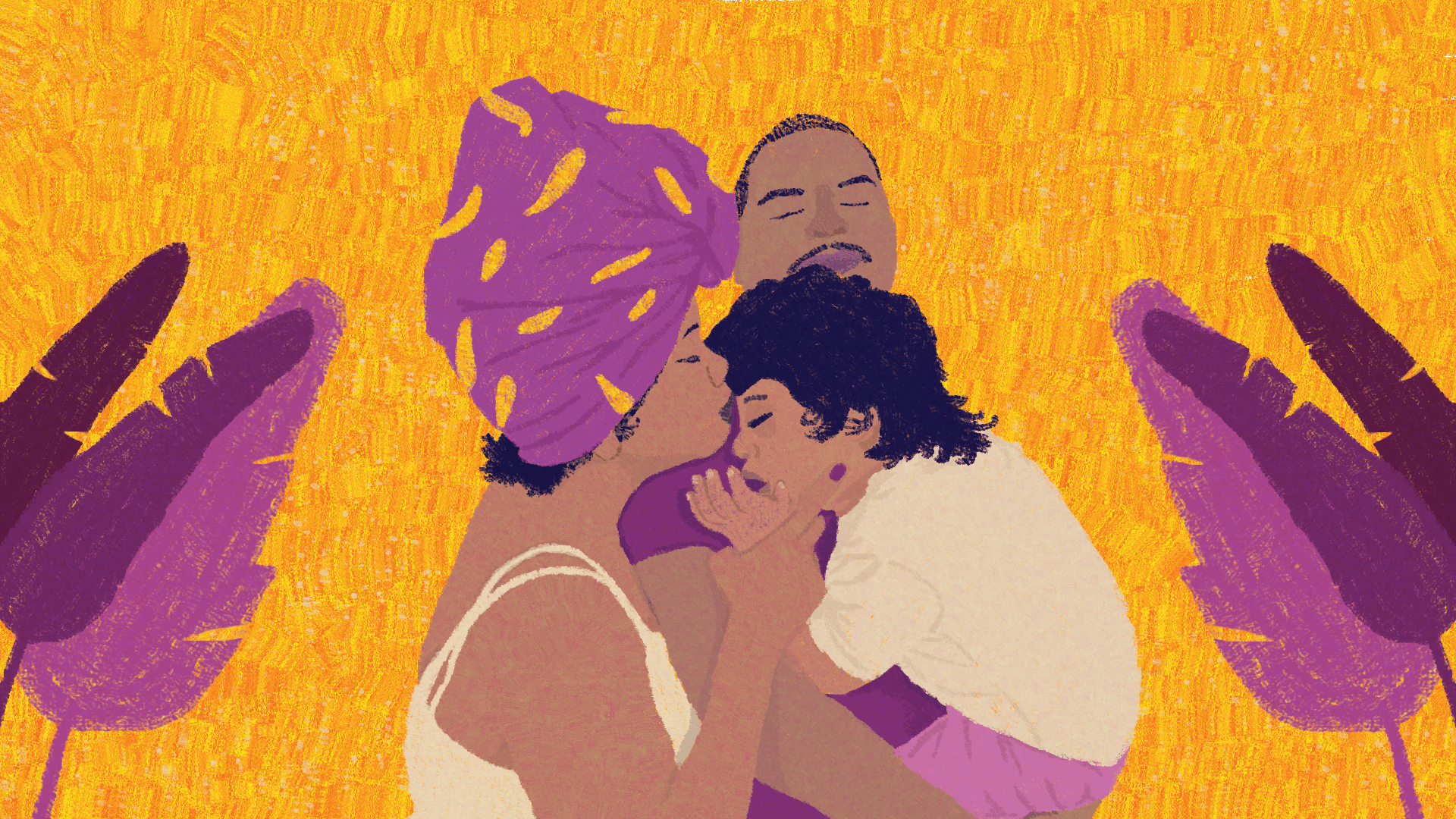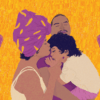De uma hora para outra, a casa virou escola. O lugar de onde Benyamin Luiz, de 6 anos, e sua mãe, Gabriela Pereira, costumavam sair de manhã e só voltar para dormir, foi transformado em sala de aula, parquinho e cantina. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, Gabriela se viu perdida. “Tudo parou. Eu estava conversando com a escola, adaptando as atividades e o Beny, que não se comunica verbalmente, não entendia. Ele chorava, entrava em crise e eu entrava em crise junto com ele”, conta a mãe, ativista dos direitos de mulheres negras e de famílias atípicas.
Na quarentena, ela viu que seria preciso resistência para criar “um mundinho novo” para o filho, criança down, surda, cardiopata corrigida e, recentemente, diagnosticada autista. Beny sentia falta da rotina e ficou ainda mais apegado aos pais, “um grudinho”, acordando toda noite para ir para a cama deles. A questão financeira também foi um problema, porque Gabriela tinha parado de trabalhar para se dedicar ao filho, e o companheiro, o assistente de marketing Moisés dos Santos, estava desempregado.
Viver em isolamento social não era novidade para essa família que migrou de Santana, no Amapá. Entre 2015 e 2016, pai, mãe e bebê ficaram sozinhos para enfrentar duas cirurgias no coração de Beny. A segunda só foi realizada depois de um abaixo-assinado para que o nome do menino fosse inserido no Sistema Único de Saúde. “Foi bem difícil, mas não estávamos vivendo tantas mortes e com tanta gente negando a situação”, pondera Gabriela.
Ela prefere não ficar comparando os desafios, e, em vez disso, tentar superá-los. No início da pandemia, sua história cabia nas estatísticas mapeadas pelo relatório “O Vírus da Fome se Multiplica”, da Oxfam, em que mais da metade da população brasileira (116 milhões de pessoas) enfrentava algum nível de insegurança alimentar.
“A gente passou muita fome. Garantimos que nada faltasse ao Beny, mas foi um tempo bem duro. Eu venho de uma família que sempre viveu muita restrição. Mesmo depois que o meu marido começou a trabalhar, eu ainda poupava tudo, às vezes, até estragava, pois não comia com medo de o emprego dele não dar certo”.
Embora não estivesse sendo remunerada, tarefas não faltavam. Além de cuidar do filho, Gabriela começou a cursar psicopedagogia à noite, no Centro Universitário Leonardo da Vinci, de Santa Catarina, que oferece ensino à distância. Também passou a aprofundar os estudos em Língua Brasileira de Sinais, enquanto tocava o Ampara.in, projeto social que fundou em 2017 para atender famílias atípicas de Sorocaba.
O ativismo em parceria com outros moradores da comunidade resultou na inauguração da Escola Municipal João Batista Larizzatti Junior, segunda EMEI de Carandá. Benny foi matriculado, mas não pode frequentar as aulas em 2020 – o coronavírus chegou quase junto com o início do ano letivo. “Achamos que, em 15 dias, estaríamos de volta. Ninguém acreditou que seria mais de um ano remoto”, conta Gabriela, que toda semana sentava com o filho para fazer as tarefas que ela adaptava.
Como a escola não migrou para o online, as atividades eram enviadas impressas para as famílias. Beny não usava lápis, caneta ou papel, pois, com uma questão sensorial, queria colocar tudo na boca, rasgar e mastigar. A mãe plastificava papelão e cobria com fita adesiva, tecido, EVA e madeira. Em 2021, o material passou a vir com os ajustes, o que Gabriela considera fruto das brigas que travou em 2020. “Aceitei enquanto a escola estava se estruturando, mas depois precisei que o direito dele fosse assegurado”.
Depois de um ano e quatro meses de pandemia, já vacinados contra a Covid-19, Gabriela e Moisés resolveram que Benny voltaria para a escola. O revezamento proposto – ir uma semana e ficar uma semana em casa – não foi bem recebido, pela necessidade que o menino tem de firmar rotinas. Em uma conversa com a direção, combinaram a frequência diária e, aos poucos, a agitação inicial está dando lugar a conquistas, como desenhar com lápis, além de novos desafios, como usar a máscara.
A 16ª filha de uma missionária e um pastor tem orgulho de ser pioneira em maternância atípica preta nas redes sociais. “Hoje, somos muitas, mas quando comecei, não era comum o recorte racial, e isso tem a ver com o luto, que a mãe branca tem e a preta, não. A gente não tem tempo de ter luto, é luta o tempo todo”.
Com a pandemia, Gabriela seguiu inventando alternativas. Em outubro de 2020, vendo o interesse das crianças do condomínio de conversar com Beny, ela criou o projeto “Libras Kids”, e passou a dar aulas gratuitas em seu apartamento para quem quisesse aprender “a falar com as mãos”. Chegou a ter 35 alunos ouvintes, entre 4 e 17 anos de idade. Mas, o excesso de compromissos acabou refletindo na saúde, e ela se deu uma pausa para cuidar de si.
A pausa não inclui as redes sociais, ao contrário. O perfil Família Atípica, que está no Instagram, Facebook e Tik Tok desde o final de 2019, tem sido terapêutico e político. A ideia é propor reflexões sobre maternidade e infância neurodiversas sem didatismo nem parecer cópia da cópia. “Estava cansada de ficar explicando para branco o que é racismo e para pessoas típicas o que é capacitismo. Quis tocar na ferida trazendo para o nosso contexto e fazer isso com humor e irreverência”.
Empolgada, ela escreveu um roteiro e contou com a ajuda da vizinha, a dona de casa Nathalia Pereira, para gravar. Nathalia também “emprestou” a filha para fazer o papel de “criança típica”. Yasmin, de 7 anos, amiga de Beny, aparece com ele em vários vídeos fofos e também em outros cheios de sarcasmo, em que Gabriela é Zeferina, militante do “normacitismo”, a luta das famílias “normais”. “Vi que ia dar certo quando minha vizinha estava rachando o bico de rir. É tudo crítico e debochado. Eu sou a rainha do deboche”, se diverte.
Vez por outra, a ironia dá lugar à confidência, a exemplo de quando expõe o preconceito e a violação de direitos que ela e Beny experimentam em instituições que deveriam protegê-los. Gabriela também não economiza em postagens combativas, como a crítica ao Decreto Nº 10.502, do Governo Federal, que institui a Política Nacional de Educação Especial e incentiva a segregação de estudantes com deficiência.
“Tive que me impor e mostrar que eu sabia os direitos do meu filho. As portas na cara, os nãos, as barreiras e o próprio Beny foram me ensinando a virar essa mãe, diferente daquela que, no início, sequer reconhecia a criança. Também não aceito o termo ‘especial’ de jeito nenhum. Especial para mim é a família que já tem tudo. Família atípica é o contrário: tem que brigar muito para ter”.
Sua fala rebate a declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que em agosto de 2021 afirmou que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros colegas e que há crianças deficientes com as quais é impossível conviver. Naquele mês, quando Beny recebeu o diagnóstico de autismo, Gabriela estava nas redes sociais incentivando seguidores a naturalizar filhos atípicos. “Nesse mundo preconceituoso, não dá para criar um filho dentro de uma bolha e sim um filho forte e empoderado, que não vai se abalar com a primeira pedra de capacitismo e racismo que lhe jogarem”.
Beny confirma o que a mãe diz, sentado em seu colo, enquanto a entrevista para esta matéria acontece em uma vídeo chamada. Carinhoso, abraça a mãe muitas vezes e sorri com a leveza de quem se sabe em um lugar seguro. Para a reportagem, ele também tem um gesto de afeto, e nos ensina sobre inclusão como nenhum adulto acertaria fazer. Assim, nos despedimos com um beijo em Libras.