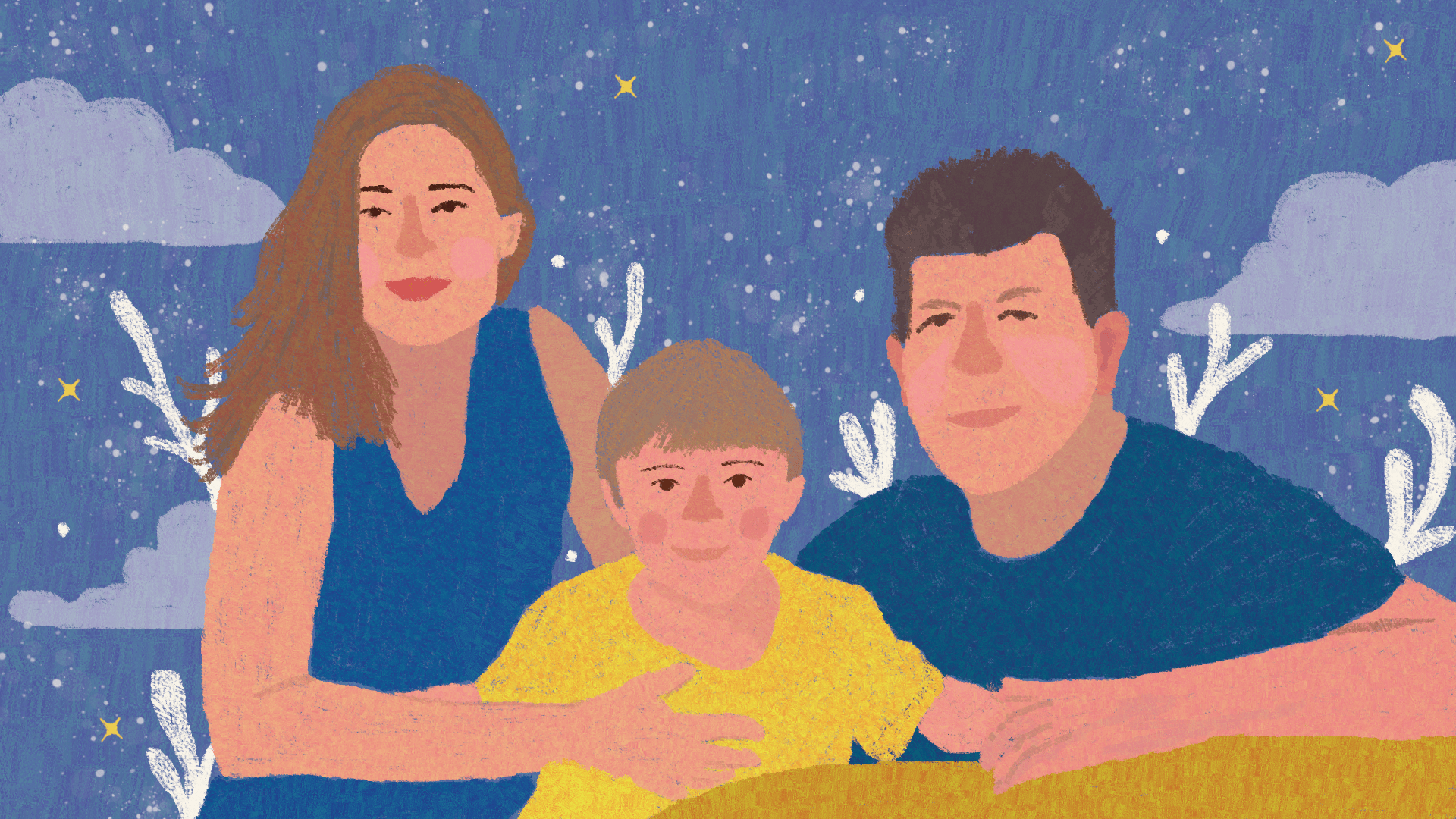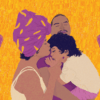“Na minha cabeça estava claro. O Gui não voltaria nem pra escola, nem pra terapia, nem pra nada até a pandemia acabar. Porque no meio daquele caos, eu sabia que ele seria o primeiro a ser deixado de lado na hora de escolher quem ia ter leito no hospital e quem ia ficar sem.”
O pavor costurava todas as decisões que Joyce Renzi tomou no começo da pandemia sobre a vida do filho, Guilherme, de 6 anos, que tem Down. Seu relato mostra a camada extra de medo que as mães de crianças neuroatípicas tiveram de enfrentar na hora de lidar com um vírus mortal e, até então, com um comportamento pouco conhecido.
Como a covid-19 afeta as crianças com deficiência? Elas precisam de cuidados e medicamentos específicos? Deveriam ser priorizadas na hora do retorno presencial à aula e na vacinação? Dúvidas e pontos importantes que foram ignorados pelo poder público – e que, em grande parte, seguem assim até hoje.
Se o pânico de Joyce, de ver seu filho neurodiverso sendo preterido na disputa de uma vaga hospitalar, acabou perdendo força com a normatização dos leitos disponíveis, a revolta persiste, pela falta de priorização de crianças como Gui. Meninos e meninas que, sem acesso à escola e às terapias, sofrem ainda mais do que crianças neurotípicas.
“As perdas cognitivas e emocionais foram muitas e surgiram muito rapidamente, assim que começou o isolamento. Depois que a aula e as terapias foram suspensas, ele começou a ficar bastante agitado e agressivo. Enfrentamos muitos problemas comportamentais desse tipo”, conta Joyce.
“Mas o Gui também sofreu na parte cognitiva. Assim que parou de ir na fono, [a desenvoltura na fala] caiu rápido. Começou a ter questões que não tinha antes, como ao falar palavras de quatro sílabas.”

Joyce, que é fundadora da Rede Orienta e diretora do Instituto Lagarta Vira Pupa, não economiza elogios especialmente às terapeutas que acompanhavam seu filho. “Tanto a fono como a TO (terapeuta ocupacional), foram heroínas. Se reinventaram pra valer, adaptaram o conteúdo com gamificação, por exemplo. Fizeram tudo o que podiam para que conseguíssemos mantê-lo online, já que no presencial seria arriscado por ele ser do grupo de risco.”
No entanto, Joyce conta que a atenção que Guilherme consegue manter em atividades online é muito limitada. Por isso, as aulas e terapias remotas se tornaram praticamente inviáveis no caso dele.

Foi então que ela e o marido resolveram passar um tempo no interior de São Paulo, em Indaiatuba, onde eles poderiam economizar – já que juntamente com a pandemia veio a crise – e Gui não precisaria ficar preso em um apartamento, enquanto as aulas e terapias não retornassem ao presencial.
Mas os meses que calculamos que duraria a pandemia foram se multiplicando e se transformando em ano(s). O casal resolveu então se mudar por definitivo para Indaiatuba, onde encontraram uma escola inclusiva que estava aberta mesmo durante a pandemia e, principalmente, onde as aulas aconteciam em sua maioria ao ar livre ou em espaços bastante arejados. Isso diminuiria o risco de o garoto se contaminar e também o pânico inicial de Joyce.
“Tem ovelha, ganso, tartaruga e até papagaio”, conta Gui em entrevista à reportagem feita por Zoom, em meados da pandemia, sob o olhar desconfiado da mãe, que dá risada ao questionar o filho se o papagaio é da escola mesmo ou da música da banda infantil Tiquequê. Ao que o garoto responde com um sorriso sapeca e já engata a falar do Dudu, um amigo da classe.
“Aos poucos vimos que não daria pra ficar isolado até tudo acabar. Percebemos que para o Gui era fundamental interagir com outras crianças, além de todo o resto que a escola traz. Assim que ele voltou pra aula, o comportamento dele mudou muito rápido”, conta. “Pra mim também foi um alívio, porque eu já estava no limite da minha exaustão e já sem paciência.”
Ela conta ainda que os vários momentos de quarentena, em que o governo fechou as escolas, foram complicados. “Quanda falámos que a escola podia não reabrir, o Gui já ficava agitado. A escola sempre foi uma parceria fundamental nas nossas vidas.”
Joyce diz de sua revolta ao, após meses do início da pandemia, a falta de políticas e diretrizes às crianças com deficiência era cada vez mais patente. “A dona da escola antiga do Gui me contou, quase chorando, como não havia nenhuma orientação sobre o que fazer com os PCD. E isso porque estávamos falando de uma escola particular. Sabemos que na pública a situação era ainda mais grave.”
Durante os momentos mais graves da pandemia, Joyce também viu ampliarem os desafios em sua vida profissional. Isso porque a pandemia e o descaso do governo em relação às crianças atípicas ampliou a demanda da Rede Orienta, uma organização que apoia famílias, especialmente as de crianças com diagnósticos inesperados.
O foco da organização é na família, principalmente nas mães. “Percebemos que elas costumam focar nos filhos e acabam se deixando de lado. Então, tentamos mostrar pra essa mulher que é preciso entender que não é egoísmo dela se priorizar também, mesmo com filhos atípicos”. Joyce explica ainda que o apoio se dá por cursos, conversas e orientações, sejam ligadas à readequação profissional dos pais até por auxílios terapêuticos.
No final da conversa com a reportagem, Guilherme entra no escritório da mãe e volta a falar de animais. Mas dessa vez não são os da escola nem da música, e sim de seu próprio cachorro, o Cookie: “Fiquei jogando bolinha pra ele”, conta o garoto, sob o olhar da mãe: “O dia inteiro assim, brigando e brincando”, ri.